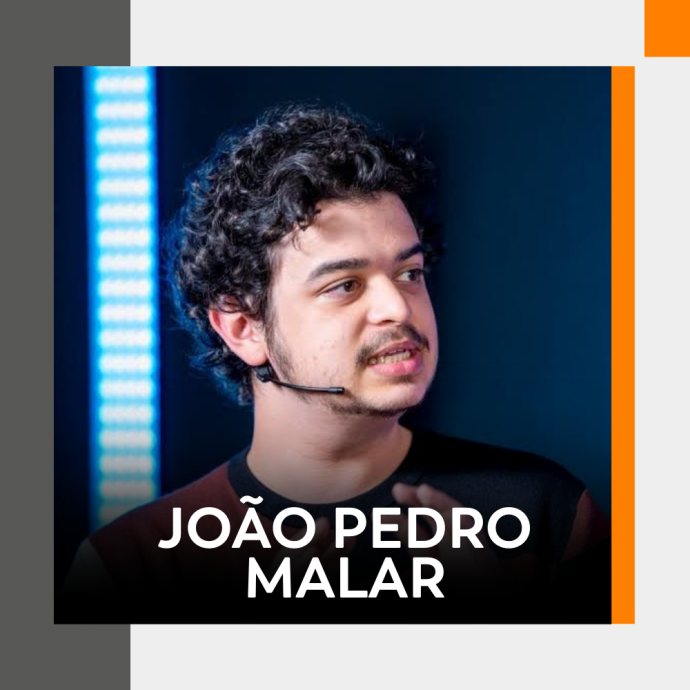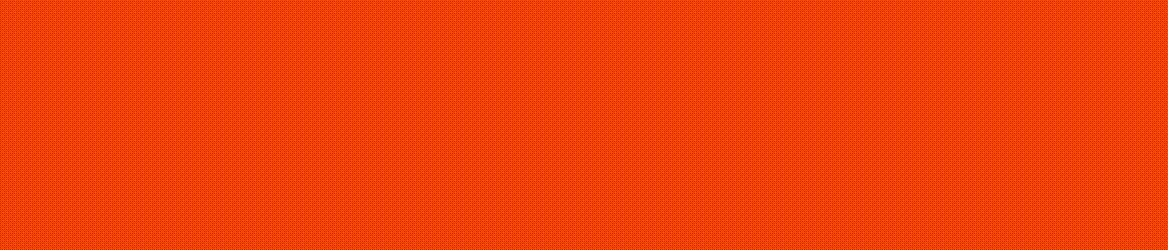Por João Pedro Malar, bacharel em Jornalismo, mestrando em Ciências da Comunicação na ECA-USP, membro do grupo de pesquisa COM+ e editor na revista EXAME
O jornalismo celebra em 2025 a efeméride de um dos seus maiores divisores de águas: os 30 anos do início do jornalismo digital. A data leva em conta o surgimento dos primeiros sites jornalísticos na web, como a internet era mais conhecida à época, e nos apresenta um momento frutífero para pensarmos na evolução da área desde então, o seu momento atual e possíveis caminhos para o futuro, muitas vezes incerto.
Via de regra, é na Academia que encontramos perspectivas críticas sobre fenômenos sociotécnicos e culturais, resultantes desse espaço de respiro, dúvida e tensionamento. Não é diferente com o jornalismo digital. Na verdade, os estudos sobre a área precedem até o surgimento da chamada internet comercial e sua expansão para a população e empresas. Desde sempre, a preocupação: o que o digital efetivamente representa para o jornalismo?
Em artigo recente, o professor Thorsten Quandt (2023) resume a trajetória dos estudos sobre o jornalismo digital em quatro grandes fases: o jornalismo digital enquanto nicho, a euforia em torno da internet e suas promessas, a desilusão com a chegada das plataformas digitais e uma mistura de visão apocalíptica e melancólica sobre o momento atual da área. Longe de se unir aos pessimistas, o professor defende a necessidade de uma quinta fase — a de normalização, aceitando tanto os aspectos positivos quanto negativos do jornalismo digital.
A defesa, portanto, é de sobriedade. É de entender que o digital foi essencial para amplificar visões e opiniões que, antes, estariam marginalizadas pelos grandes meios de comunicação. É entender que o digital permitiu o surgimento de uma ampla gama de veículos nativos digitais — mais de 150 apenas entre os membros da Ajor (Associação Brasileira de Jornalismo Digital) — e resultou em uma série de inovações técnicas, estéticas e organizacionais para uma área acostumada ao tradicional.
É entender, também, que o digital não gerou a paz mundial ou a inteligência coletiva trabalhando em prol da resolução de todos os problemas, como alguns otimistas esperavam. É entender que a plataformização (Poell, Nieborg, Van Dijck, 2020) inundou a internet com a concentração de poder, e consequentemente recursos, típica do Capitalismo. É entender, em especial, que o digital gerou uma série de crises e disrupções que, hoje, ameaçam a própria sobrevivência do jornalismo como conhecemos ao deixá-lo dependente de grandes empresas de tecnologia e descredibilizado por parte expressiva da população.
Não são poucos os autores que contribuíram, de alguma forma, para mapear essa encruzilhada atual. Apenas no Brasil, foram dezenas, incluindo Elizabeth Saad, Marcos Palacios, Carlos Eduardo Franciscato, Elias Machado, Luciana Mielniczuk, Suzana Barbosa, Pollyana Ferrari, Daniela Osvald Ramos, Daniela Bertocchi e Stefanie Carlan da Silveira.
Juntos, e ao lado de tantos outros, mostraram que o digital não é apenas um novo meio para a prática do jornalismo. É, mais que isso, um novo ambiente sociotécnico que implica em diversas dinâmicas culturais, políticas, econômicas e sociais inéditas. É o jornalismo numérico, algoritmizado, computacional. Mais flexível, ágil, efêmero, mais curador e menos controlador dos fluxos informacionais.
Não é de se espantar, portanto, que os desafios sejam inúmeros e tão expressivos. Refletir sobre o jornalismo digital é refletir sobre o próprio futuro, e a sobrevivência, do jornalismo e do seu papel — talvez utópico — de incentivador e protetor da democracia. E isso exige entender o digital, suas características, suas dinâmicas, suas potencialidades e limitações.
Chegamos aos 30 anos do jornalismo digital enfrentando, também, toda a pletora de desafios e potencialidades trazidas pela disseminação da inteligência artificial generativa. Surgem, daí, novos problemas éticos, novos desafios à sustentabilidade jornalística, inovações possíveis, novas práticas, estéticas e modelos organizacionais. E assim o jornalismo digital segue mudando, a grande constância de uma área inconstante.
Mas o que permanece? Talvez essa seja a grande pergunta a ser respondida nos próximos anos para os estudos da área. O que, mesmo diante de novas tecnologias, práticas, dinâmicas, ameaças, exigências comerciais e do público, permanece? E o que deveria permanecer? Nesse sentido, vale refletir sobre o que, na visão do professor Manoel Carlos Chaparro (1994), define o jornalismo: a combinação de técnica e estética, sim, mas sempre pautada pela ética. E que venham mais 30 anos de jornalismo digital!