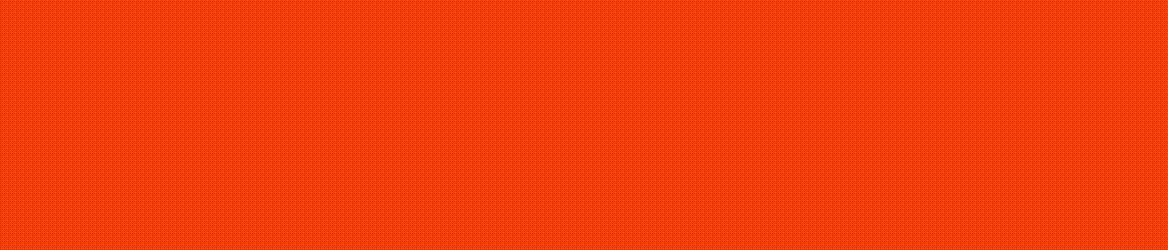Dar nome às coisas, comportamentos e fenômenos é uma capacidade humana, uma das mais belas e criativas, mas que implica em grande responsabilidade. A beleza está tanto na capacidade cognitiva de entender o está diante de si, quanto pela necessária condição de relacionar o fenômeno em questão com um determinado signo verbal, já existente e reapropriado ou uma real inovação na língua; assim nomear também é criar. E a responsabilidade está nas consequências do partilhar este novo signo verbal considerando toda a sua potencialidade de gerar interpretações a partir dele, processo incorrigivelmente aberto.
Temática presente na filosofia desde tempos remotos aos dias atuais, encontra em Nietzsche (1844-1900) uma referência indispensável. Para o filósofo, damos nomes às coisas para fugirmos da nossa assustadora, angustiante e desestabilizadora incompreensão. O não saber é incômodo e nos esforçamos para sair desta condição. Nomear seria assim uma tarefa tranquilizadora porque é capaz de produzir a sensação, ainda que provisória, de que “demos conta”. Para Peirce (1839-1914), com seu pragmatismo fundante, os nomes das coisas estão baseados em generalizações possíveis a partir do reconhecimento da partilha de determinados predicados. Quando falamos cachorro, não denominados um cachorro em particular, mas um conjunto, uma classe de animais, que partilham determinadas características reais, observáveis – mamífero, doméstico, de quatro patas… Nosso pensamento busca as recorrências, que por sua vez, subsidiam os conceitos que darão origem aos nomes. As especificidades se constituem em novas nomeações, como as raças dos cachorros, também constituídos a partir da partilha das características, até singularizarmos nos nomes de cada um dos animais. Agimos desta forma porque precisamos construir a sensação de segurança, de dominação e de apropriação das coisas e dos fenômenos humanos e não-humanos. Ainda que na certeza do crescimento signico, o que impõe a provisoriedade – princípio do falibilismo peirceano – precisamos deste estado mental-corporal para o nosso equilíbrio emocional e sanidade. As coisas sem nome não permitem aproximação pela linguagem mediadora, como bem lembrado por Ivo Ibri (2020, p.108/109), mas se manifestam na poesia, nas artes plásticas e na música, outras formas não verbais de expressão; ou ainda formas outras de dizer o que não mais pode ser dito pela linguagem lógica.
Assim, notamos que, ao nomear, especificamos e classificamos algo como parte de uma classe e, com isso, construímos a possibilidade de lidar melhor com o signo nomeado. Daí a importância de nomear adequadamente tudo o que acontece em nosso cotidiano, para que consigamos nos posicionar e, vez por outra, alterar o estado das coisas, ora renomeando, ora atuando energicamente contra sua legitimação no corpo social, como em situações de signos verbais com conteúdos racistas como chamar de criado-mudo a mesa de cabeceira ou mesmo utilizar o verbo judiar quando se pretende dizer maltratar. Estes são exemplos que expressam nossas relações com os objetos e com determinadas compreensões no âmbito cultural-político-religioso. Felizmente, esses códigos verbais foram reconstruídos e compartilhados, criando novos hábitos linguísticos que nomeiam o referido objeto e o citado mal tratamento de outras formas. Seguimos nomeando, mas agora, um pouco mais conscientes das consequências.
- Referência
- IBRI, Ivo. Semiótica e pragmatismo. vol. 1. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2020.