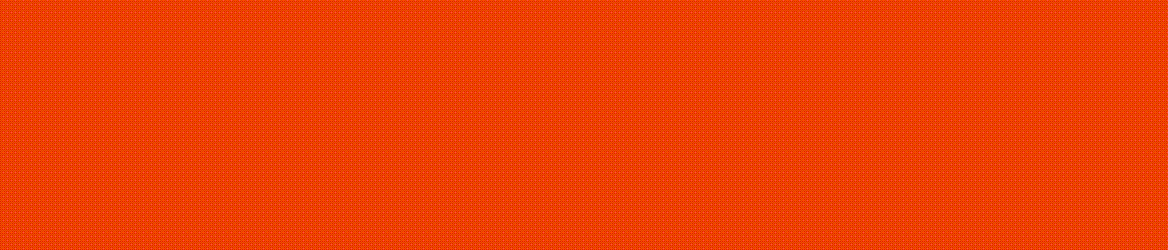No sempre agitado mundo da publicidade, se há uma prerrogativa compartilhada entre os distintos agentes que fazem da atividade o seu ganha-pão, é que o consumidor importa. Nos anos 1970, a ideia de que “o consumidor tem sempre a razão” se tornou popular no Brasil e foi incorporada como uma espécie de chavão. Mas, desde 1942, a clássica animação do pato mais mal-humorado dos Esteites já nos fazia rir ao levar essa concepção até o limite da sanidade. Nela, a ideia de que “o cliente tem sempre a razão” leva Donald justamente a perder a sua.
Mas é necessário fazer justiça à publicidade, pois desde que os primeiros reclames passaram a ser veiculados de forma mais organizada no Brasil, existe uma preocupação em entender o consumidor. A primeira pesquisa de mercado de que se tem notícia no país foi realizada em 1931 pela agência Ayer, quando a publicidade estava longe de ser estruturada do modo que a conhecemos. Em 1942, veio o Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística). De lá até hoje, as estratégias mobilizadas para conhecer o consumidor se sofisticaram no compasso do desenvolvimento dos meios de comunicação, da tecnologia e da economia.
Mas, se os publicitários não tardaram a configurar mecanismos próprios para conhecer o consumidor, isso não significa que fizeram esforços para reconhecê-lo. Para entender isso, é importante fazermos um mapeamento genético da publicidade brasileira. Nossa forma de fazer, trabalhar e versar sobre a publicidade foi marcada historicamente pelo modelo estadunidense, de onde vieram as primeiras agências em meados do século XX. Esse DNA deixou marcas inegáveis na publicidade. Uma delas é o uso recorrente de neologismos importados para denominar tarefas banais: desenvolvemos skills para jobs focados em alguns targets. Nada incomum, não fosse o fato de o trabalho ser desenvolvido no Brasil e já termos palavras em português para dizer isso…
Outra forte marca genética está na falta de reconhecimento dos consumidores. Embora as pesquisas de mercado tenham se tornado cada vez mais comuns, a publicidade brasileira historicamente se baseou em padrões representacionais importados, alheios às características de nossa população. Mas, se a publicidade pôde cada vez mais conhecer o consumidor, por que tardou a reconhecê-lo?
Até o início deste século, eram poucos os mecanismos existentes para que os consumidores pudessem, efetivamente, mostrar suas insatisfações em relação à publicidade. O CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) já aceita denúncias de consumidores desde os anos 1980, mas se trata de uma reivindicação mediada pelos mecanismos de operação dessa Entidade, com seus ritos processuais e critérios analíticos.
Foi a partir do desenvolvimento da web 2.0, com a expansão das modalidades de interação digital, que as insatisfações em relação aos anúncios ocuparam a arena pública através de práticas de contestação da publicidade. Essas práticas, realizadas de modo informal nas redes sociais digitais, provocaram tensionamentos entre consumidores e publicidade que até então estavam latentes. O primeiro deles direcionou-se à falta de reconhecimento das mulheres nos anúncios. Consumidores passaram a questionar a objetificação feminina e os comportamentos sexistas reproduzidos pela publicidade. Aos poucos, essas contestações foram ouvidas (não sem resistências) e a publicidade buscou se reconfigurar para atender as insatisfações.
Muitos outros temas foram objeto de contestação nos últimos anos, como a reivindicação por representações mais diversas e plurais dos consumidores negros e negras, da população LGBTQIA+, PCDs, pela proteção à infância, entre outros. Embora todos tenham importância, um tema que ainda carrega traços persistentes do DNA estrangeiro da nossa publicidade está na diversidade racial. Na publicidade brasileira, a branquitude ainda se coloca como uma norma.
As práticas de contestação estimularam a publicidade brasileira a criar condições de reconhecimento de seus consumidores. A configuração de equipes de trabalho mais diversas é uma resposta importante e que vem sendo construída pela publicidade, com seus avanços e tropeços. Mas se existe algo permanente na publicidade, é a mudança: outras práticas de contestação já são vistas no horizonte, como as referentes ao modo como a publicidade tem lidado com o uso de dados pessoais frente à implementação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) ou a conivência/combate do mercado em relação às práticas de desinformação.
Frente a tais reivindicações, cabe o lembrete de que o contrário da reação por parte dos consumidores seria a indiferença. Se os consumidores contestam a publicidade, é porque ela importa. E, justamente para preservar essa importância, a publicidade precisa sustentar um espaço aberto de diálogo com a sociedade. A não ser que queira acabar como aquele famoso personagem do desenho de Walt Disney.
 Laura Wottrich
Laura Wottrich
Publicitária, professora do Departamento de Comunicação (DECOM/UFRGS) e Pesquisadora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM/UFRGS). Pesquisa as reconfigurações da publicidade na sua articulação com a cultura. Autora do livro “Publicidade em Xeque: Práticas de contestação dos anúncios”
lwottrich@gmail.com