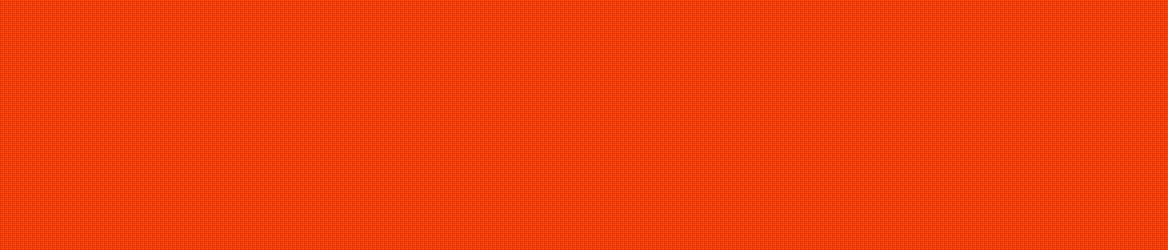Por Renato Figueiredo, mestre em Comunicação pela ECA-USP e Fundador da iAZ Estratégia de Marca.
Com a evolução tecnológica dos meios e formatos de comunicação, parecia que estaríamos livres dos ditames de uma corrente de pensamento massificadora que replicava tudo o que a grande mídia favorecia, estabelecendo os padrões de beleza, comportamento e um way of life determinado, o chamado mainstream. O que parece ter acontecido é que não só continuamos com uma forte corrente de pensamento massiva, mas provocamos o surgimento de sua duplicata, uma nova espécie de mainstream que agora é silencioso, invisível e talvez tenha mais eficiência para dirigir políticas, pessoas e relações internacionais do que antes. Surgiu o que chamei de Mainstream Fantasmagórico: invisível, fragmentário e potencialmente destrutivo. Para quem trabalha com mídia, consumo e opinião, é fundamental entender as implicações desse movimento, a fim de entender melhor o nosso papel nessas dinâmicas tão impactantes para nossa vida em sociedade.
Em 2004, o jornalista Guy Garcia publicava seu livro “O Novo Mainstream”, no qual analisava como grupos de pessoas normalmente alijados de representação midiática frequente adquiriam maior relevância no cenário do consumo, da economia e da própria cultura. A ideia de Garcia encontrava eco no espírito de uma época em que as atenções apenas começavam a se voltar aos grupos sociais entendidos como minorias no mainstream, a corrente de pensamento central que se revela em produções culturais como cinema, televisão e literatura, bem como no noticiário e nos rituais de consumo – cujas vozes e pensamentos podiam ser conhecidos principalmente através da propaganda. De lá para cá, muita coisa mudou nesse cenário midiático, cultural, de entretenimento e das marcas, graças, principalmente, ao fenômeno das redes sociais. A visibilidade conquistada por diferentes estratos da população, incluindo muitos dos grupos considerados ‘minorias’ — em aspectos como orientação sexual, raça, identidade de gênero e até espectro cognitivo — cresceu de tal forma que assumiu o papel de “novo mainstream”. Filmes, séries, notícias, premiações, propagandas, marcas, lugares, conceitos teóricos, programas curatoriais e discussões passam a ressaltar as peculiaridades, vontades, pontos de vista e contextos de vida destes grupos, começando também não apenas a serem feitas para estes públicos, mas cada vez mais por eles próprios. Vitória para a vida de uns, e uma pedrinha no sapato para aqueles que resistem a mudanças associadas ao progresso social e humanitário.
Quase na mesma época de Garcia, outro jornalista americano, o Clive Thompson, em 2006, lança sua ideia da “Cauda Longa” (“The Long Tail”), um conceito adaptado da estatística para mostrar que, com a evolução tecnológica e midiática, as pessoas poderiam começar a consumir conteúdos e mercadorias mais diversas, mais afeitos a seus interesses, de forma a depender menos da “ditadura da maioria” do antigo padrão, e das limitações do varejo tradicional. Ele não estava errado: de fato, de onde você estiver hoje já é possível encontrar uma grande comunidade para discutir “X, Y ou Z”, e é possível adquirir livros ou mercadorias bastante específicas, virtualmente de qualquer lugar que tenha internet e que seja alcançado por uma rede de entregas.
Ambas as ideias, junto com a emergência de teorias da sociedade organizada em rede, nos faziam crer que iríamos nos livrar de uma corrente dominadora e questionável. Seríamos, enfim, livres de toda dominação, de toda mediocridade, de todo engano propagado ali, e, principalmente, de uma desvirtuação política, em uma mistura curiosa entre os maiores desejos dos libertários e dos utópicos. Até aí, muita convergência, esperança e otimismo se apresentavam e a discussão não parecia politizada. Todos torcíamos juntos para que pequenas, mas importantes vozes pudessem ganhar espaço, e começar a amplificar seu poder transformador no mundo.
Conforme as previsões, a fragmentação do mainstream em outros “mini hubs” e, mais tarde até em redes mais descentralizadas, provocou uma clara diminuição do poder, do prestígio e da credibilidade da mídia. Aparentemente, se deu mais espaço e mais voz a outros sabores de conteúdos, como se estivéssemos num self-service de sorvetes, agora com muito mais opções além do chocolate e do morango. No mundo da cultura, vimos os doramas (as séries coreanas) e as novelas turcas começarem a fazer enorme sucesso e crescer em audiência, antes mesmo de estarem disponíveis nos grandes canais de streaming, tendo sua troca acontecendo via Telegram e outros canais abaixo da grande mídia. Enquanto isso, na política, a troca de “informações” e pensamento através de redes sociais privadas ou fechadas em suas filter bubbles ocasionaram o surgimento de nomes e eventos antes improváveis. Basta olhar para a decisão da população britânica pelo Brexit, as duas vitórias de Trump, ou de outros políticos no Brasil e no mundo: uma série de eleições que alcançam uma maioria de forma exponencial e abrupta, sem que as correntes de pensamento que as subsidiam tenham aparecido com igual força na mídia ou produções culturais conhecidas.
Assim, se a reorganização do mainstream teve sucesso em sua forma, com certeza não podemos dizer o mesmo de seu efeito. A partir de movimentos que ele próprio favoreceu, o mesmo mecanismo que nos deu acesso a outros “sabores de conteúdo”, possibilitou a disseminação de ideias ainda mais escusas e o favorecimento de grupos oligárquicos de poder, revelando quase uma ingenuidade nossa na capacidade de prever o futuro. Isso sem falar no crescimento de conteúdos ainda mais parecidos com o que sempre foi feito pela grande mídia: não foi o streaming do Belas Artes que bombou, mas sim as produções massificadas à la novela das oito dos anos noventa. Assim, nos tornamos, sim, mais livres para trocar “informação”. Mas talvez ainda mais escravos de vicissitudes humanas que nos levam a atitudes temerosas e com todos os tipos de ‘ismos’ e fobias. O enfraquecimento das mídias pareceu fortalecer extremismos vividos no âmbito político e religioso, que só encontravam eco no mundo quando as formas tradicionais de comunicação eram fracas, inexistentes ou rigidamente controladas.
O perigo, quando toda a troca de ideias começa a acontecer abaixo do alcance da mídia, é que não há possibilidade de se obter um consenso, afinal, o diálogo passa a ser invisível. O declínio da mídia tradicional e, portanto, do mainstream como o conhecíamos, parece ter dado espaço ao que chamo de um Mainstream Fantasmagórico: que aparece de repente, é incontrolável, e quase sempre, assustador. A metáfora do fantasma ainda serve para aludir ao que alguns levam como brincadeira, ignorando consequências que se provam bastante reais, e nada inofensivas. O que fazer, então? Não, a ideia não é voltar atrás, tampouco parar de assistir novela turca. Também não é o caso de colocar tudo no mesmo balaio. Essa nova corrente não é formada pelo mesmo grupo de pessoas: obviamente um fã de dorama não é necessariamente brexiter ou eleitor de Trump. É quase impossível discernir quem faz parte do que e quais as linhas de pensamento estão verdadeiramente em jogo, num cenário bem favorável para quem advoga por um mercado de dúvidas e incertezas. Talvez o que precisemos é recuperar dois atributos essenciais do mainstream: o consenso e a visibilidade. O mainstream pode ser um conceito e uma ferramenta de grande valia, e recuperar sua unicidade significa recuperar nossa capacidade de diálogo e de sonharmos juntos com um futuro em comum. Um verdadeiro mainstream precisa ser cívico, e, acima de tudo, consensual, afinal, quando falamos com a maioria, precisamos estabelecer uma forma de falar que seja comum a todas as crenças, e todos os desejos. E isso, quem trabalha com mídia e consumo sabe muito bem fazer. Qual consenso podemos construir hoje?