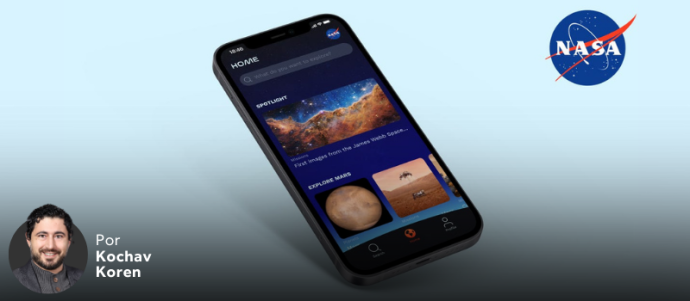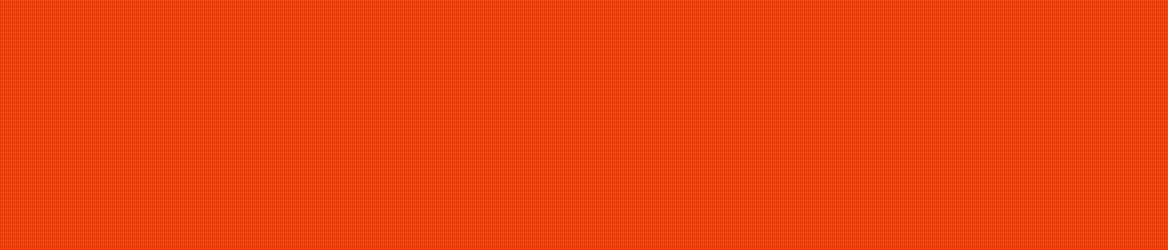Chegará o tempo do retorno. Em breve, virão os dias em que serei inscrito, ou não, no livro da vida. Contemplo, então, a força da criação, que se impõe mesmo antes dos erros e apesar deles. Tomo como metáfora o ciclo de aprendizagem da NASA, cuja trajetória, ao longo de décadas, exprime uma convergência singular entre sujeito e objeto. Explico: o sujeito que projeta e o objeto projetado não se apartam; antes, configuram-se mutuamente no gesto de conhecer e construir..
Não raro me ocorre que a tela diante de nós não é mero vidro retroiluminado, sem embargo, uma superfície de mal-entendidos. O estudo conduzido no Human-Computer Interaction Lab da NASA Johnson Space Center, sob direção de Marianne Rudisill, evidenciava essa constatação: engenheiros de software e especialistas em fatores humanos falam da mesma interface, mas não a percebem sob a mesma gramática cognitiva (Gillan, Breedin & Rudisill, 1990).
O primeiro associa o teclado à arquitetura de programas e protocolos; o segundo, à hesitação concreta do dedo que se aproxima da tecla. Ambos pronunciam “mouse”, mas o objeto é outro, diverso, no bolso semântico de cada um.
O experimento descrito no artigo pediu aos grupos que organizassem cinquenta termos do vocabulário da interação homem-máquina. O resultado foi revelador: os engenheiros aproximaram “gráficos” de “código” e “software”, enquanto os especialistas em fatores humanos agruparam “cores”, “ícones” e “símbolos”. Não se trata de decidir quem está correto, mas de reconhecer como a experiência profissional deixa sulcos na cartografia mental. São dois cartógrafos desenhando o mesmo continente, mas em escalas distintas: um atento às linhas costeiras, outro às serras ocultas no relevo da percepção.
A moral é discreta, mas contundente. Forçar todos a pensar de modo idêntico seria esterilizar a própria fonte da inovação. Ao preparar uma estação espacial, a NASA precisava lidar não apenas com fuselagens e algoritmos, mas também com modos díspares de imaginar o gesto banal de apertar um botão. Pois não há botão neutro: cada clique é já um ato simbólico, significado dentro de um horizonte de mundo.
Este é, talvez, o ofício silencioso da pesquisa: mostrar que por trás de um ícone que pisca não há apenas linhas de código, mas também linhas de raciocínio que se cruzam, se desentendem e, por vezes, se iluminam. Projetar uma interface não é simplesmente alinhar menus; é traduzir dialetos mentais em uma língua comum, onde engenheiros e psicólogos da máquina possam, finalmente, reconhecer-se no mesmo objeto, ainda que cada qual traga consigo uma constelação própria de significados.
Reclamo que talvez a chave esteja em ir além da superfície técnica. Alfred Schutz mostra que não há objeto sem sujeito, nem sujeito que se sustente sem o horizonte dos objetos. A interface, seja ela um painel de nave da NASA ou a tela modesta de um processador de texto, não é simplesmente “algo” a ser manipulado. É sempre já um objeto significado, atravessado pela intencionalidade daquele que o habita com seu olhar e com seu gesto.
Quando o engenheiro pensa em “gráficos” como código e o especialista em fatores humanos pensa em “gráficos” como recurso perceptivo, temos o mesmo objeto físico, mas dois objetos vividos, constituídos a partir de diferentes esquemas de relevância. O sujeito não projeta sua experiência no vazio: este ancora no mundo cotidiano, no estoque de conhecimento que carrega consigo, sedimentado por sua trajetória profissional.
É aqui que se revela a beleza, e a tensão, da colaboração. Cada designer se aproxima da interface com um “motivo-em-vista” diferente: para uns, fazer rodar o sistema; para outros, garantir que o usuário não se perca no labirinto dos comandos. Schutz diria que a vida cotidiana é tecida por múltiplas tipificações, e que só ao reconhecer essa pluralidade de olhares podemos escapar da ilusão de um objeto único e autoevidente.
Em novos projetos financiados pela NASA, lido sob essa lente, revela-se menos um conflito de métodos e mais um choque de mundos sociais. O sujeito que programa e o sujeito que projeta a experiência não compartilham a mesma província de sentido, embora falem de “janela”, “ícone” ou “função”. Cada termo carrega uma espessura de mundo, uma sedimentação de experiências que orienta o modo como o objeto-interface se deixa ver.
Remeto que se chama “design” talvez seja isso: a busca por uma ponte entre sujeitos que habitam objetos diferentes, mas que precisam convergir para que um ator-usuário, lá no espaço, consiga apertar um botão sem hesitar.