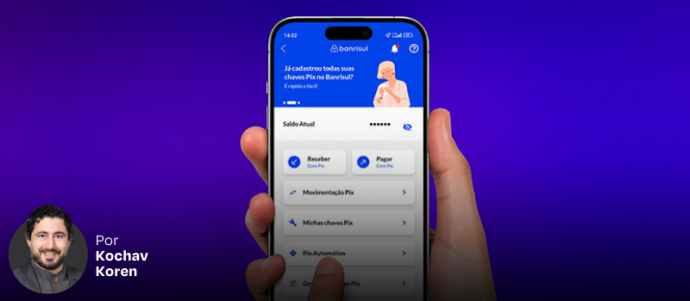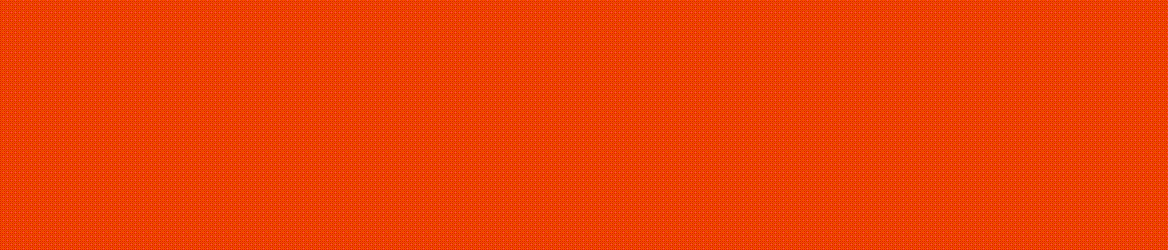Trato aqui de conduzir o segundo relato sobre o framework Diário de Experiência. Neste que é quase o meu segundo mês completo no Rio Grande do Sul, percebo a força simbólica do Banrisul na vida do povo gaúcho. A marca, estampada por décadas nas camisas do Inter e do Grêmio, materializou-se agora na palma da minha mão, como novo cliente. A experiência que conduzo nesta croniqueta diverge, em muitos aspectos, do trabalho recente de branding promovido pela instituição. Ao que tudo indica, no aplicativo, ao menos por ora, nada mudou. Explico.
A dinâmica de uso no aplicativo do Banrisul é marcada por quadros perceptivos contraditórios. Ao perguntar “quais quadros estruturam a experiência?”, observo que o app se apresenta como uma vitrine exaustiva: tudo em uma única tela, sem categorizações. Essa opção de design funciona como uma moldura escolástica, e aqui escolástica no sentido de abarrotada, não sistematizada, que confunde o usuário que busca realizar uma ação específica. Pode, sem embargo, facilitar a exploração para o novato, aquele que ainda não sabe o que vai encontrar.
O quadro se ancora, não obstante, de forma precisa e acertada, exprime a disponibilização do Pix antes mesmo do login: uma ancoragem coerente com o comportamento recorrente de seus usuários, que encontram nessa funcionalidade um atalho legítimo. Ainda assim, rupturas perceptíveis minam essa coerência: o ato de “voltar”, tão elementar na navegação digital, é ignorado. O usuário que acessa uma função encontra-se frequentemente sem uma trilha de retorno; para voltar ao menu principal, é preciso sair e relogar – uma quebra de expectativa que fragmenta o uso.
Ao questionar “por que essa estrutura se organiza assim?”, referendo que o tom da interação – ou o keying da experiência – é instável. A depender da funcionalidade acessada, há mudanças abruptas na ambientação da navegação. Ao tentar configurar uma ação no Banricompras, por exemplo, o usuário se depara com a impossibilidade de retornar a um menu inicial. Aliás, viva o Banricompras – essa bandeira bem gaúcha, que anima o comércio local como quem traça uma linha de crédito à moda antiga, dessas que me fazem lembrar, sem esforço, do Banco Palmas lá no Ceará.
Retorno o relato. O tipo de falha na continuidade força um recomeço: deslogar, entrar de novo, reencontrar o caminho. O tom resultante é o de um utilitarismo fragmentado. O app não incentiva uma jornada integrada, mas sim um uso oportunista e pontual. As funcionalidades não se entrelaçam, e o senso de objetivo se perde em labirintos de tarefas estanques.
No eixo do “quanto?”, contida em minha metodologia de Planejamento em UX, perguntamos pelos ritmos de ação e pela continuidade no tempo útil da experiência. E é aqui que o Banrisul tropeça com mais força. O ritmo não só não é mantido como é constantemente quebrado. Logins repetidos, processos interrompidos e a ausência de trajetórias lógicas entre funções impedem qualquer senso de fluidez. O sucesso de uma transação, como um Pix efetuado, não conduz à realização de uma próxima ação. Cada microexperiência é uma ilha, e o tempo útil no app se dissolve em travessias forçadas.
Quem é o ator-usuário nesse jogo?, reclamo. Quando nos pergunto “quem age, e como se percebe?”, contesto que a experiência no Banrisul lamina o papel do usuário: cada entrada no app reinaugura uma nova experiência, como se ele fosse outro a cada uso. Não há memória de percurso. A identidade do usuário é descontinua, e a ginga, aquela alternância entre intenção e improviso, vira ferramenta de sobrevivência.
Taticamente, ao refletir sobre “quais preparações antecedem a ação?”, o ator-usuário se vê sem roteiro. Apartado o Pix, já ritualizado pelo destaque visual e funcional, o restante da experiência exige improvisações que beiram a mandinga: é preciso contornar a rigidez do design por meio de simulações, tentativas, erros e um tanto de fé.O chamado “faz-não-faz” de Goffman se evidencia com clareza: o usuário finge ir para um lugar, só para conseguir chegar a outro.
E quando olho para o “quando?” da execução, ou seja, o momento do ato performático, apenas o Pix se ritualiza. Outras operações, como checar limite de crédito ou contratar consórcio, desviam a atenção com obstáculos técnicos e exigem novos logins. A ritualização se dilui em fricções, e a experiência perde sua continuidade dramática.
No plano da aprendizagem, a pergunta “o que se aprende da experiência?” revela que os atores-usuários simulam domínio como tática para ocultar dúvidas. Aprende-se não porque a interface ensina, mas porque os tropeços se repetem. Aprende-se a se desviar, a desconfiar do botão, a sair e entrar de novo. O domínio é uma performance de adaptação, onde a mandinga vira norma.
Findo ao perguntar “onde a experiência se naturaliza?”, só o Pix se afirma como quadro internalizado. O restante é contingência. Melhorias simples, como o reconhecimento automático do tipo de chave Pix ao colar um código, recurso comum em concorrentes, ainda não foram incorporadas. Ao planejar a experiência do Banrisul, portanto, é preciso olhar para esses pequenos gestos de ginga que o usuário desenvolve como pistas fundamentais de redesign. O improviso não deve ser norma. O erro repetido não é hábito, é sintoma. Cabe ao planejador enxergar essas fraturas como pontos de escuta.
A avaliação de UX que faço do Banrisul pode ser sintetizada como um caso exemplar de design centrado na função, mas descentrado do percurso. Em outras palavras: as funcionalidades existem e até funcionam, mas o caminho entre elas é truncado, descontinuado e pouco sensível às práticas reais dos usuários. A interface não é hostil, mas é desatenta, e, nesse descuido, força o usuário a criar mandingas de uso, ou seja, estratégias improvisadas para contornar uma estrutura que não o reconhece como sujeito com trajetória.
Do ponto de vista metodológico, este caso evidencia o valor do Diário de Experiência como ferramenta de diagnóstico qualitativo: permite identificar onde o improviso se torna regra, onde o gesto se ritualiza e onde o sistema falha em sustentar a fluidez da ação. Planejar a UX do Banrisul exige partir do contrário: não das funções que o banco quer oferecer, mas das gírias de uso que o usuário já fala, ou, como diria seu próprio manual, das figuras de interação que já se desenham no improviso cotidiano.