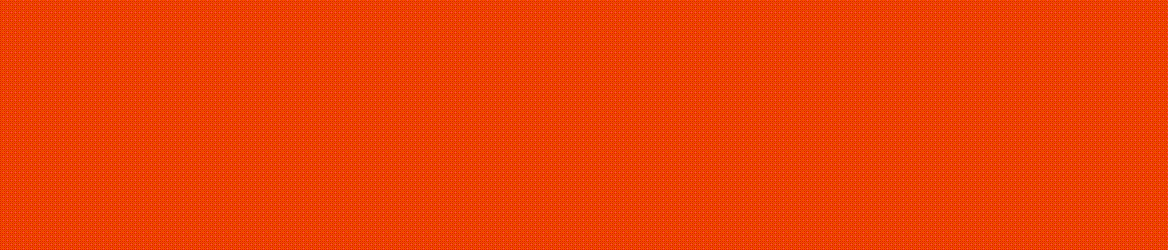Hoje é aniversário da melhor amiga, uma mulher-aeronave que nunca entra em pane quando o assunto é lealdade. Traduzo aqui uma experiência preventiva, que diz tanto do amor quanto da soberania: voar com Patrícia é saber que o Brasil ainda pode ser protagonista. Como satélite de Kochav, ela orbita com precisão, coragem e silêncio firme, missão contínua, sem margem para falha.
A negligência das dimensões experienciadas da manutenção aeronáutica, como as divergências entre norma e prática, a improvisação rotinizada e a opacidade simbólica nos processos, pode não causar diretamente um acidente, mas contribui para o acúmulo de vulnerabilidades latentes no sistema. E são justamente essas vulnerabilidades que, segundo o modelo de “fatias de queijo suíço” de James Reason, podem se alinhar e permitir a ocorrência de falhas catastróficas.”
Exprimo aqui o lugar de um auditor em UX Aeroespacial, não no papel formal, mas na escuta fenomenológica da manutenção como prática incorporada. Minha inquietação não nasce de planilhas ou indicadores, sem embargo, por uma visita recente ao entorno da Embraer, em São José dos Campos. Ali, a confiança, esse bem simbólico de altíssimo valor, nem sempre voa alto. Às vezes, ela se cola ao decalque de um manual técnico; noutras, se esconde atrás da porta de um hangar, entre prateleiras onde repousam peças que talvez ninguém tenha auditado direito. A confiança também se escreve com “c” de check-list — desde que o check-list não tenha sido terceirizado, encapsulado em planilhas opacas que só os olhos da ANAC compreendem.
Reclamo com atenção o estudo de Machado, Araújo, Urbina e Macau (2016). E, para além dos dados, foi o campo da experiência que mais me mobilizou. O artigo, “A qualitative study of outsourced aeronautical maintenance: The case of Brazilian organizations”, investigou, com metodologia qualitativa e exploratória, a aderência das práticas de manutenção terceirizada ao arcabouço normativo da segurança aeronáutica. De 130 estações certificadas pela ANAC, 27 responderam ao questionário estruturado em sete dimensões críticas: requisitos legais, planejamento e programação, gestão da informação, recursos, suporte e controle, segurança e recursos humanos. O resultado, embora denso e tecnicamente conduzido, revela uma cena de dissonância normativa: escassez de pessoal, falhas na rastreabilidade de peças, improvisação rotinizada e sistemas informacionais subutilizados. Em outras palavras, um cenário de latent operational disorder, mascarado por rituais de conformidade.
Diante disso, proponho um roteiro complementar, qualitativo, situado, interpretativo. Utilizando o Diário de Experiência como lente de escuta, não pretendo invalidar os achados do estudo, mas encarná-los. A partir disso, retomo as sete dimensões propostas por Machado et al. (2016), e traduzo cada uma em forma experiencial.
1. Cenário: Quadros e Ancoragens
O que os técnicos veem ao seu redor? Trata-se de um ambiente regulado, sim, mas a regulação, aqui, carrega sentidos ambíguos. Certificações como ANAC, FAA ou EASA ora são bússolas, ora são ruído institucional. Há momentos em que o manual técnico é escudo; noutros, apenas um papel decorativo. O mesmo se aplica ao carimbo de um inspetor: para uns, símbolo de autoridade; para outros, mero rito vazio. Quando normas colidem, seja entre agências reguladoras, seja entre prática e papel, a legitimidade do gesto técnico se fratura. O que sustenta, então, a autoridade do fazer?
2. Objetivos: Tons
Por que se faz o que se faz? O tom da ação varia. Há oficinas movidas por ethos de confiança; outras, por vigilância. Em muitos casos, os objetivos operam como scripts: metas assumem ares de teatro administrativo. E esse tom é volátil. Basta uma peça atrasar, ou uma auditoria anunciar-se, para que a segurança se converta em medo; e a eficiência, em urgência. A centralidade da ação técnica é constantemente reconfigurada por tonalidades institucionais.
3. Alcance: Ritmo e Fluxo
A ação flui? Ou tropeça? Oficinas bem equipadas performam como coreografias. Já aquelas com estrutura precária operam em constante compensação improvisada. Os kits técnicos, por vezes, auxiliares; por vezes, subterfúgios — encobrem ausências. Nesse cenário, a adaptação pode ser celebrada como competência ou desqualificada como “jeitinho”. A divergência entre o tempo da máquina, o tempo do corpo técnico e o tempo da planilha revela uma política de tempo assimétrica, um exemplo vívido daquilo que Sage chama de work-mimicking environments.
4. Consciência: Papéis e Dramaturgias
Quem é quem no chão de fábrica? As fronteiras entre planejar e executar frequentemente se diluem. Técnicos interpretam manuais em inglês sem domínio pleno da língua; traduzem com o corpo, por gestos, por repetição. Entre técnicos e gestores, a comunicação frequentemente opera em camadas tácitas, compondo uma verdadeira dramaturgia operacional. O papel técnico, aqui, é performado, com escuta seletiva, representação e silêncio.
5. Tática: Ação em Contingência
Como se age quando algo escapa? As estratégias de reação variam conforme a cultura da oficina. Há ambientes que cultivam improviso como competência institucionalizada; outros, que o estigmatizam como desvio. Quando a gambiarra vira protocolo, temos uma mutação normativa. Aqui, improvisar não é falha — é também sinal de agency diante da escassez. Um indicador, não apenas de precariedade, mas de plasticidade organizacional.
6. Execução: Tempo do Corpo
A execução não segue o cronômetro; segue o ritmo do corpo. Fluxo e interrupção alternam-se segundo a tensão do turno. Uma auditoria iminente muda tudo, o gesto se torna performance. O técnico representa o saber técnico mesmo quando improvisa. Quando as metas não são compartilhadas, convertem-se em pressões silenciosas, moldando o gesto de dentro para fora.
7. Aprendizagem: Silêncios e Transmissões
Como se aprende? Em muitas oficinas, o aprendizado é mimético, pela observação. Em outras, finge-se saber para preservar status. Os treinamentos formais existem, mas não bastam. A cultura da oficina molda o que pode ou não ser dito, testado, proposto. Algumas práticas florescem no café; outras são silenciadas pelo medo de errar. O conhecimento real, aquele que sustenta o gesto, é, quase sempre, extra-manual.
8. Interiorização: Naturalizações e Rituais
O que virou hábito? O que foi absorvido como “o jeito certo de fazer”, mesmo sendo normativamente problemático? Vi manuais desatualizados usados com naturalidade; estoques ignorados; práticas cuidadosas repetidas com orgulho. A interiorização revela a normatividade interna. Algumas oficinas aprendem com os erros; outras, os reiteram. Quando a segurança é vivida como imposição — e não como valor — ela perde sua ancoragem simbólica.
Por isso escrevo a frame vivido no final de semana em São José dos Campos. Porque ali, entre a chave que aperta e o corpo que hesita, entre a peça que falta e o gesto que improvisa, pulsa uma verdade que o manual não dá conta. A manutenção, quando vista de perto, é menos um protocolo e mais um pacto: entre confiança e vigilância, entre rotina e exceção, entre o que se espera e o que se consegue entregar.
No fundo, não é só o avião que precisa voar. A soberania nacional também. É o vínculo simbólico entre quem faz e quem confia, esse sim precisa se manter no ar, sustentado não apenas por normas, mas por sentido.
E talvez seja esse o verdadeiro motor da UX aeroespacial: a experiência situada de quem, mesmo sem dizer, segura nas mãos o peso do voo.