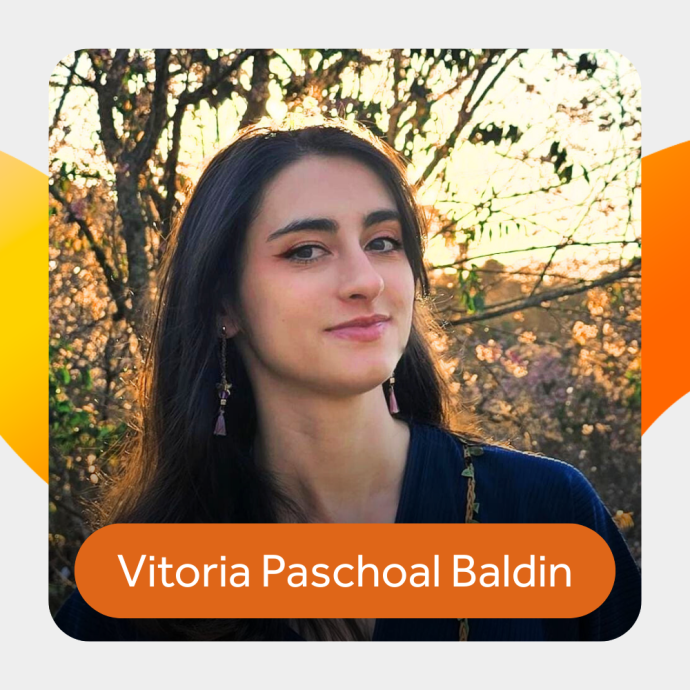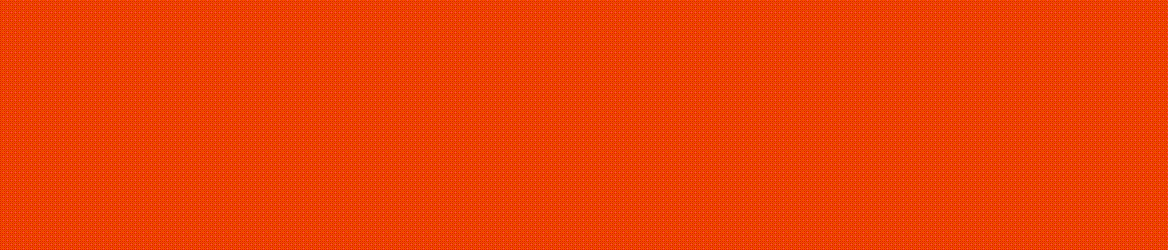Por Vitoria Paschoal Baldin, pesquisadora de arte e ativismo digital, doutoranda e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP)
No mundo digital, as hashtags não são apenas palavras com um símbolo à frente. Elas se apresentam como verdadeiros campos de batalha em que marcas, consumidores e ativistas disputam narrativas, poder e influência. Hoje, cada compra (ou a recusa em comprar) pode ser amplificada nas redes sociais e virar parte de um debate global sobre justiça social, meio ambiente, racismo ou direitos humanos. Esse fenômeno tem duas faces: de um lado, uma nova forma de engajamento político; de outro, um terreno fértil para oportunismo e desconfiança.
Hashtags como #BlackLivesMatter ou #QuemFezMinhasRoupas funcionam como bandeiras digitais. Elas permitem que consumidores expressem apoio a causas e pressionem empresas a mudar práticas. Mais do que comprar um produto, trata-se de sinalizar valores e alinhar o consumo a questões morais e políticas.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sprout Social, 66% dos consumidores acreditam que as marcas devem se posicionar em temas sociais e 81% afirmam que as empresas precisam conquistar sua confiança. Esse número explica por que campanhas de boicote e “buycott” (o consumo incentivado em apoio a uma marca ou causa) se multiplicam: consumidores progressistas tendem a reagir contra injustiças, enquanto grupos conservadores boicotam quando percebem ameaças a valores como “tradição” ou “pureza”.
O caso da Nike com Colin Kaepernick é emblemático. Ao apoiar o jogador que se ajoelhou durante o hino americano em protesto contra o racismo, a marca dividiu o público: de um lado, ameaças de boicote de setores conservadores; de outro, consumidores liberais comprando tênis em apoio ao gesto. O resultado? Um aumento expressivo no valor da marca e um lugar de destaque no debate público.
Se a aposta dá certo, a marca ganha prestígio, fidelidade e até crescimento nas vendas. Mas quando a jogada parece oportunista, o efeito pode ser devastador. O exemplo mais famoso talvez seja o da Pepsi, que lançou um comercial em que Kendall Jenner entregava uma lata de refrigerante a policiais durante um protesto, em alusão direta ao movimento Black Lives Matter. O público não perdoou a tentativa de transformar uma luta por vidas negras em peça publicitária. O anúncio foi retirado do ar, e a empresa virou alvo de memes e críticas.
Situação parecida ocorreu com a Gillette e sua campanha contra a “masculinidade tóxica”. Apesar da causa legítima, muitos consumidores enxergaram a iniciativa como marketing de oportunidade, já que a empresa não possuía histórico consistente de engajamento nesse campo. Esse tipo de prática ganhou até nome: “woke washing”, ou seja, quando a empresa adota um discurso progressista sem sustentação em suas ações reais.
Já nos anos 1990, a Nike foi alvo de protestos após denúncias sobre condições precárias de trabalho em suas fábricas na Ásia. A pressão foi tão intensa que a empresa precisou rever práticas e adotar novas políticas trabalhistas. A diferença entre o passado e o presente está no alcance: antes, a denúncia dependia da imprensa tradicional; hoje, basta uma hashtag viral para expor contradições.
Paralelo ao ativismo de marca, há o chamado Marketing de Causa (Cause-Related Marketing, CRM). A lógica é simples: uma parte da venda de um produto é destinada a uma causa social ou ambiental. Quando bem executado, pode ser uma equação “ganha-ganha-ganha”: empresa, consumidor e causa saem beneficiados. Casos de sucesso incluem campanhas da Yoplait, que doava parte do lucro à luta contra o câncer de mama, ou da Pampers com a UNICEF, direcionando recursos para vacinas. Nesses exemplos, a sintonia entre produto e causa (saúde, bem-estar, infância) transmitia autenticidade.
Não à toa, 91% dos consumidores afirmam preferir marcas que apoiam causas sociais ou ambientais, segundo dados da Cone Communications. Além disso, campanhas de marketing de causa ajudam empresas a se diferenciar em mercados competitivos, atraem consumidores conscientes e até aumentam a motivação de funcionários.
Se engajar politicamente pode ser lucrativo, também é arriscado. Vivemos em um cenário hiperpolarizado, em que qualquer posicionamento é imediatamente examinado sob lentes ideológicas. Uma postagem pode gerar aplausos de uns e ódio de outros. Isso obriga as marcas a encontrar um delicado equilíbrio entre coerência, transparência e coragem. O consumidor contemporâneo é cético: não basta levantar uma bandeira, é preciso provar no dia a dia que a empresa age em sintonia com aquilo que defende.
O ativismo digital e o marketing de causa são expressões de uma nova fase do capitalismo, na qual valores morais circulam com as mercadorias. O consumo deixou de ser apenas uma relação de preço e qualidade: virou também um ato político. Ao mesmo tempo, a fronteira entre engajamento real e oportunismo é cada vez mais tênue. Campanhas autênticas podem transformar marcas em símbolos de resistência ou solidariedade; já iniciativas forçadas podem acabar virando memes de cinismo corporativo. No fim, entre hashtags e boicotes, a lição é clara: no palco das plataformas digitais, a autenticidade é um ativo cada vez mais valioso.